

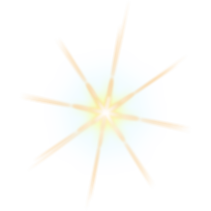
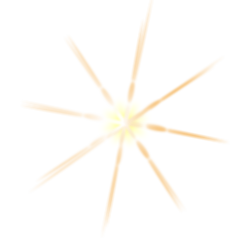


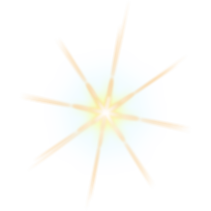
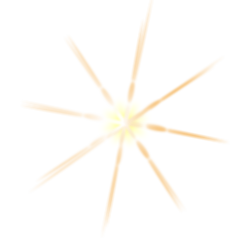
25.06.2017 -

A relativização do direito à vida marca diversos argumentos da ação ajuizada pelo PSOL no Supremo Tribunal Federal (STF) para descriminalizar o aborto até 12ª semana de gestação. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442 está tramitando desde março deste ano e tem como relatora a ministra Rosa Weber. Até agora, ela já pediu que o presidente da República, a Câmara e o Senado se posicionassem sobre o assunto. O Justiça & Direito inicia com esta reportagem uma série que traz a análise dos argumentos apresentados na ADPF e o debate que cada um deles pode gerar tanto no âmbito jurídico, quanto no social.
O documento assinado pelo PSOL segue duas linhas argumentativas. Uma delas pretende demonstrar a legalidade do aborto por meio da ponderação entre o direito à vida do ser humano em gestação e outros direitos fundamentais das mulheres. A outra linha é que ser o humano, antes de nascer, não tem direitos fundamentais, porque não seria uma “pessoa constitucional”, mas apenas uma “criatura humana intraútero”. Embora sejam analiticamente independentes, essas visões se retroalimentam retoricamente, na medida em que diminuir o status constitucional dos seres humanos não nascidos opera para desequilibrar em favor dos “interesses” da mulher o resultado da ponderação que os autores da ação propõem para resolver o conflito entre os direitos do feto e os direitos da mulher.

Neste texto, o Justiça & Direito vai tratar da suposta distinção entre “pessoas constitucionais” e “criaturas humanas intraútero”. Esses termos também foram utilizados pelo ministro Marco Aurélio em seu voto na ADPF 54 – que tratava do aborto de fetos anencéfalos. De acordo com essa ideia, o direito à vida, inscrito no artigo 5º da Constituição, só vale de forma plena para seres humanos já nascidos. Aos seres humanos em gestação, pela potencialidade de virem a adquirir vida no sentido jurídico, pode-se até garantir alguma proteção por meio de leis ordinárias “contra tentativas levianas ou frívolas de obstar sua natural continuidade fisiológica”, nas palavras da decisão do tribunal na ADI 3.510 – que liberou as pesquisas com células-tronco embrionárias –, mas não a proteção constitucional que se dá a uma pessoa já formada.
Embora o art. 5º diga, ao garantir a inviolabilidade do direito à vida, que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, a primeira atitude dos defensores do aborto na ADPF 442 é fazer a distinção entre seres humanos nascidos e não nascidos. Os autores da ação afirmam que “reconhecer valor intrínseco no pertencimento à espécie humana não é o mesmo que designar todas as criaturas humanas como pessoas constitucionais e, consequentemente, a elas conferir direitos e proteções fundamentais”.
“Pessoa constitucional”
Em entrevista ao Justiça & Direito, uma das advogadas autoras da ação, Luciana Boiteux, resumiu a posição expressa na petição inicial: “Uma pessoa constitucional, para ter a plenitude de todos os direitos, precisa nascer. Na verdade, o embrião em formação tem uma expectativa, mas ele ainda não é uma pessoa”. Para Boiteux, a distinção decorre da interpretação sistemática do texto constitucional. “Literalmente, a Constituição não faz [essa distinção], mas isso é uma interpretação que se faz à luz de uma compreensão mais ampla. Esse conceito de pessoa constitucional é desenvolvido por doutrinadores”, diz.
A distinção entre “pessoa constitucional” e “criatura humana intrauterina” é arbitrária. Pode-se até discutir, com um pouco mais de base no que os tribunais brasileiros vêm fazendo, o que fazer em caso de “conflito de interesses” entre uma mulher que queira abortar e um feto que esteja vivo. Mas cravar uma distinção abismal entre as duas categorias de seres humanos é algo que carece de fundamentação constitucional adequada.
De acordo Ângela Gandra Martins, advogada e Ph.D. em Filosofia do Direito, que assina um dos pedidos de amicus curiae (amigo da corte) no processo, “essa distinção não tem sentido: eu posso matar alguém um minuto antes do parto e um minuto depois não posso mais? Desde a concepção, o embrião já é uma pessoa única que contém seu código genético próprio”.

E diz ainda: “o direito deve acompanhar a realidade. O ser humano é pessoa desde a concepção, porque ela não tem outra natureza antes de ser pessoa humana”.
Personalidade jurídica
O Código Civil brasileiro, em seu artigo 2º, estabelece que a personalidade jurídica começa no nascimento com vida, mas o mesmo artigo põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Disso decorrem duas coisas. Primeiro, é um equívoco interpretar a Constituição à luz do Código Civil, quando o que deve ser feito é justamente o contrário (isso sem levar em conta as diversas controvérsias jurídicas para entender o que, a rigor, estabelece o artigo 2º do Código Civil). Nada no texto constitucional ou na tradição jurídica brasileira autoriza essa distinção, senão o raciocínio recente do STF e as afirmações dos autores da ADPF 442.
“O mundo jurídico precisa de uma formalização, mas isso não diz respeito à natureza das pessoas. Não há contradição entre o princípio da Constituição, que garante o direito à vida a todas as pessoas, e a regra civil. Na prática, o Código Civil só está dizendo que o nascituro não pode ser registrado no mundo jurídico, mas ele tem garantidos todos os seus direitos desde a concepção, porque a Constituição quer protegê-lo também, quer garantir o direito que ele venha a entrar no mundo jurídico”, afirma Ângela.

Mesmo que o feto não tenha personalidade jurídica, se o Código Civil põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção, ele assegura, logicamente, o direito à vida de quem vai nascer – incluindo o direito de nascer –, pois da vida dependem todos os demais direitos para se concretizarem. Que lógica haveria na lei assegurar os direitos do nascituro desde a concepção se o STF autorizasse a mãe e os médicos, a privá-lo, até o terceiro mês de gestação, do direito de nascer e, portanto, de ter todos os demais direitos assegurados pela lei?
Os argumentos da petição inicial da ADPF 442 para sustentar essa distinção artificial revelam ainda outras posições temerárias. O documento afirma, reconhecendo que o conceito de “pessoa constitucional” é controverso, que “não há controvérsia jurídica sobre o reconhecimento do estatuto de pessoa constitucional a recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos ou idosos, em qualquer circunstância de vivência do corpo, dependência, deficiência ou envelhecimento”.
A decorrência lógica dessa posição é clara: se o tempo sedimentar uma controvérsia forte quanto ao reconhecimento do status de pessoa constitucional a um outro grupo de seres humanos além dos não nascidos, então o Judiciário poderá vir a decidir que também eles não têm direitos constitucionais. Não se trata de apelar para o argumento da “ladeira escorregadia”, mas de firmar posicionamentos claros sobre quais direitos o Judiciário deve proteger quando o Estado ou as pessoas reivindicarem para si o direito de matar alguém.
No artigo Legalização do Aborto e Constituição, Daniel Sarmento, professor de Direito Constitucional e precursor, no Brasil, da posição que fundamenta a ADPF 442, talvez antevendo a objeção acima, faz uma ressalva: “é claro que se a legislação ordinária negasse personalidade a quem é pessoa – como no passado se fazia com os escravos – ela seria inválida, por manifesta inconstitucionalidade. Isto porque, o primeiro direito humano é o que cada indivíduo tem de ser tratado e considerado como pessoa”.

Mas a posição de Sarmento escamoteia o que está em jogo. O argumento do professor de Direito Constitucional só parece fazer sentido porque ele supõe, de antemão, que embriões não sejam indivíduos, em razão da gradualidade no desenvolvimento biológico. Mas estabelecer o marco que separa indivíduos – que, pelo argumento do professor, teriam direito à personalidade – de não indivíduos, em qualquer momento posterior à concepção, será sempre arbitrário. Crianças recém-nascidas, quando comparadas a jovens na flor da idade, ainda estão em desenvolvimento. O STF aceitará um argumento que, por sua estrutura lógica, pode abrir as portas para a legalização do infanticídio?
A advogada também considera grave relativizar o direito à vida. “É claro que as pessoas podem ir adquirindo direitos ao longo da vida, como o direito de ter carteira de motorista. Mas o direito à vida é fundamental, ele é a origem de todos os direitos. No momento que o Estado tira o direito à vida, ele está sujeito a tirar todos os outros. Um direito fundamental não pode ser manipulado dessa forma”, diz. “Qualquer ficção legal deve sempre ser aplicada para aproximar o direito da vida, como para tornar filho a criança adotada, e nunca para distanciar o direito da vida, distanciando o embrião da sua natureza de pessoa”, completa.
Não por acaso, a legislação brasileira e a jurisprudência do país sempre foram parcimoniosas no tratamento dessa questão. Desde 1940, com o Decreto-Lei que instituiu o Código Penal em vigor no Brasil – no qual o aborto é crime contra a pessoa –a lei penal escolhe não punir abortos consentidos pela mãe no caso de gravidez resultante de estupro e de procedimento médico necessário para salvar a vida da gestante. É um equívoco reconhecer nessas situações uma prova de que o direito dá menos valor à vida do feto que a da mulher – pois a lei pode abrir mão da punição, ou cominar uma pena menor, em razão não da dignidade menor da vítima, mas da situação dramática da mãe. Achar que se pode, a partir dessas duas exceções, legalizar o aborto no atacado, até o terceiro mês de gestação, é um equívoco maior ainda.
“A legislação está aí para lembrar o que é certo e o que é errado e que o errado vai ter uma pena. Mas a pena pelo aborto a mãe vai carregar de qualquer maneira, as consequências psicológicas são muitas. A situação é grave por si só para qualquer mãe. O Estado não precisa tripudiar sobre a pessoa. O direito deve ajudar a sociedade a enxergar qual o seu próprio bem, incluindo bem da mulher. Ter um filho é melhor que abortá-lo”, opina Ângela.
O direito brasileiro, a rigor, também não nega que possa haver outras situações dramáticas que mereçam ser nuançadas. A dogmática penal tem, na teoria do crime, o instrumento de análise da culpabilidade da conduta, de sua reprovabilidade social, para decidir se uma conduta típica e antijurídica é mesmo, ao fim e ao cabo, um crime que merece ser punido. O juízo que a lei faz em geral nessas duas situações dramáticas também é facultado ao juiz fazer nos casos concretos, a depender das circunstâncias. Essa é a forma que o direito sempre teve de sinalizar que protege a vida, mas não desconsidera o drama das mulheres. Uma decisão que descriminalize o aborto até o terceiro mês de gravidez talvez leve em conta o drama das mulheres. Mas o que sinalizará em termos de proteção à vida?
Fonte: Gazeta do Povo notícias
Veja também...
Picharam um lema pró-aborto na igreja, mas a resposta do padre italiano foi sensacional